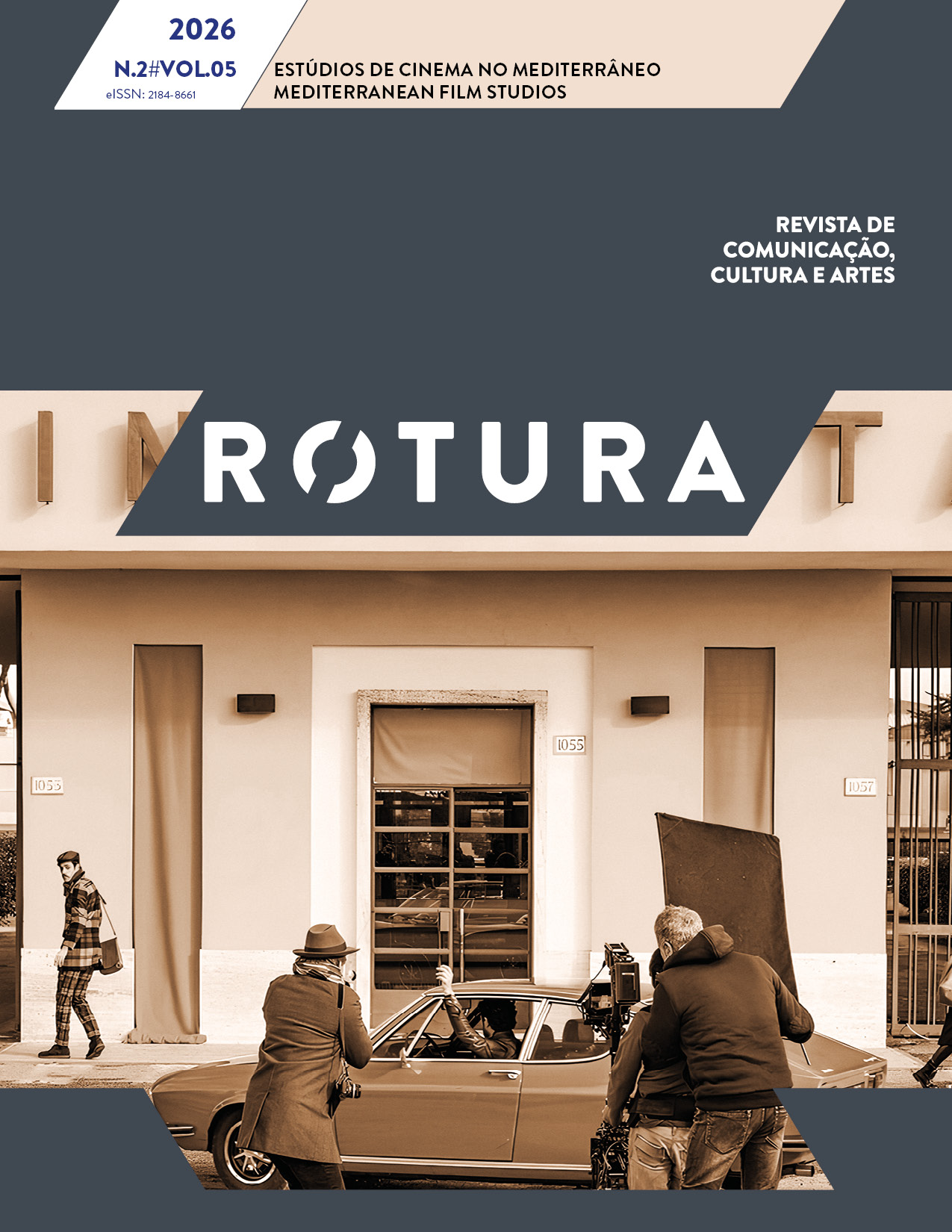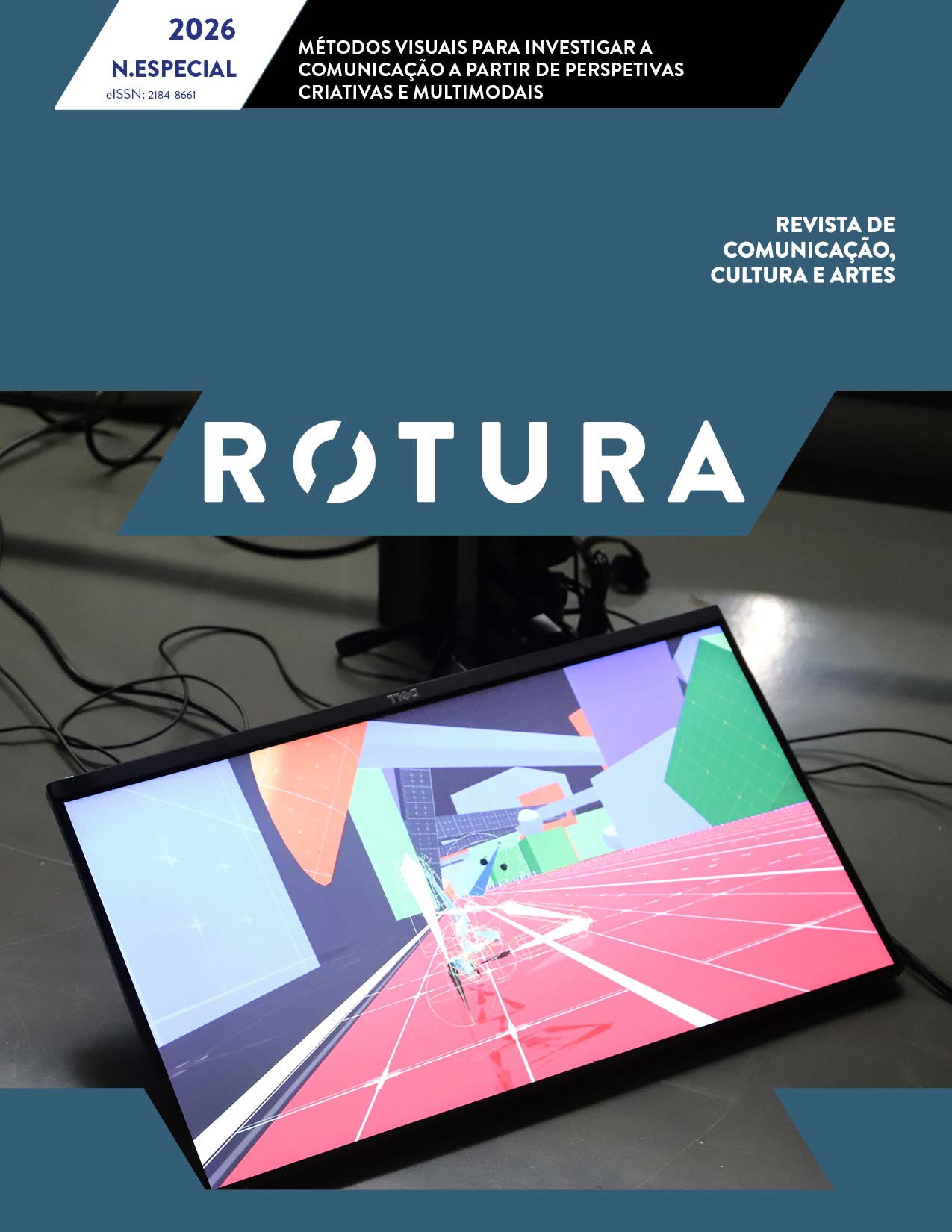Chamada de Trabalhos
Estúdios de Cinema no Mediterrâneo
Os estúdios de cinema têm sido centrais na história da produção audiovisual desde o início do século XX, desde as primeiras casas de vidro até aos enormes complexos de Hollywood e de Roma. Os estúdios exalam uma impressão de glamour e mistério, o que fez com que muitos deles se tornassem atrações turísticas. No entanto, na investigação de cinema, o foco tem sido colocado principalmente na interpretação dos filmes, na obra de realizadores, produtores e estrelas, ou no estudo de públicos e locais de exibição. Nos trabalhos académicos que referem os estúdios de cinema, estes são muitas vezes amalgamados à história das produtoras, como ferramentas necessárias para atingir metas financeiras, em vez de serem vistos como locais específicos dignos de estudo próprio.
Os estúdios são laboratórios de inovação e criatividade. São estruturas físicas que refletem sua função, mas também mediam tendências arquitetónicas e culturais mais amplas. São ambientes de trabalho estruturados em torno de convenções, regras, políticas e práticas colaborativas específicas, podendo ser vistos como microcosmos de desenvolvimentos sociais e políticos mais amplos. É essa natureza multifacetada dos estúdios de cinema que tem sido redescoberta recentemente por estudiosos, especialmente nos trabalhos de Brian Jacobson (2015 e 2020) e Street et al (2026).
Enquanto a história dos grandes estúdios de Hollywood está relativamente bem documentada, há, com poucas exceções (por exemplo, García de Dueñas e Gorostiza, 2001; Street 2024), relativamente pouco trabalho sobre estúdios de cinema em outras cidades ou países. Street et al. mapearam as histórias dos estúdios da Grã-Bretanha, França, Alemanha e Itália desde o início do período sonoro até o final dos anos 1950, destacando a interação e o tráfego transnacional entre esses países. A antologia de Jacobson oferece uma gama mais ampla de estudos de caso e períodos, mas, no seu foco distinto, carece de contextos e interações transnacionais mais amplos.
Reconhecendo a necessidade de reconsiderar conexões e redes regionais e transnacionais, esta chamada de trabalhos baseia-se nesses contributos académicos e convida investigadores a submeter trabalhos que explorem as histórias dos estúdios de cinema no espaço mediterrâneo (Sul da Europa, Norte de África, Levante), desde os primeiros dias do cinema até o presente, e as suas relações entre si. Estamos particularmente interessados nos seguintes tópicos:
- Histórias de estúdios individuais
- Estúdios como símbolos da cultura nacional
- Relações transnacionais entre estúdios
- Arquitetura e design dos estúdios
- Pós-vida dos estúdios como património, atrações turísticas ou imóveis
- Práticas de trabalho
- Mudanças tecnológicas
Bibliografia:
García de Dueñas, J., & Gorostiza, J. (2001). Los estudios cinematográficos españoles. Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas.
Jacobson, B. R. (2015). Studios before the system: Architecture, technology, and the emergence of cinematic space. Columbia University Press.
Jacobson, B. R. (Ed.). (2020). In the studio: Visual creation and its material environments. University of California Press.
Street, S. (2024). Pinewood: Anatomy of a film studio in post-war Britain. Springer.
Street, S., et al. (2026). Film studios in Britain, France, Germany and Italy: Architecture, innovation, labour, politics, 1930–60 (forthcoming). Bloomsbury.
Tim Bergfelder é Professor de Estudos de Cinema na Universidade de Southampton (Reino Unido). É coeditor da revista Screen, editor da série Film Europa da Berghahn e da série Palgrave European Film and Media Studies. É coautor do livro a publicar Film Studios in Britain, France, Germany and Italy. Architecture, Innovation, Labour, Politics, 1930–1960; Londres: BFI/Bloomsbury (2026). Publicações anteriores como autor, editor e coeditor incluem “EXIL SHANGHAI as Audio-Visual Archive and Cross-Cultural Collage.” In: Angela McRobbie (ed.), Ulrike Ottinger. Film, Art and the Ethnographic Imagination (Bristol: Intellect, 2024); The German Cinema Book (segunda edição, Londres; BFI, 2020); “Popular European Cinema in the 2000s: Cinephilia, Genre and Heritage,” in Mary Harrod, Mariana Liz, and Alissa Timoshkina (eds.), The Europeanness of European Cinema. Identity, Meaning, Globalization, Londres e Nova Iorque: I.B. Tauris, 2015; Destination London: German-speaking émigrés and British Cinema, 1925–1950 (Oxford e Nova Iorque: Berghahn, 2008); Film Architecture and the Transnational Imagination: Set Design in 1930s European Cinema (Amsterdã: Amsterdam University Press, 2007); International Adventures. Popular German Cinema and European Co-Productions in the 1960s (Oxford e Nova Iorque: Berghahn, 2005).
- https://orcid.org/0000-0001-6585-6123
- https://www.southampton.ac.uk/people/5wyk6m/professor-tim-bergfelder
Jorge Manuel Neves Carrega é investigador integrado do CIAC – Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve, onde leciona cursos de cinema, artes e comunicação desde 2012. Atualmente coordena o Grupo de Trabalho de Estudos Fílmicos do CIAC e organiza o Colóquio Cinemas do Mediterrânio. É também vice-presidente da AIM – Associação de Investigadores da Imagem em Movimento. Atualmente investiga a história da exibição cinematográfica no Algarve e coordena o projeto CURATE, que estuda a coleção de cartazes do Museu Municipal de Faro. Jorge Carrega é autor de sete livros, incluindo “Géneros Populares e Cinema Transnacional na Europa Mediterrânea” (CIAC, 2023), “Elvis Presley e a Cultura Popular do séc. XX” (CIAC, 2023) e “Brief Cultural History of Faro” (UFF, 2018). Publicou cerca de cinquenta artigos e capítulos de livros em diversas publicações académicas.
- https://orcid.org/0000-0002-0797-8891
- https://www.cienciavitae.pt//1C18-48AC-ECE7
Data limite para envio de artigos: 15-04-2026
Notificação de aceitação: 30-06-2026
Envio da versão final: 10-09-2026
Publicação: 30-09-2026
Métodos visuais para investigar a comunicação a partir de perspetivas criativas e multimodais
Os métodos visuais oferecem uma via alternativa para explorar a realidade através de uma perspetiva visual mediada, com a intenção de transcender os limites e a especificidade disciplinar que restringem o potencial criativo das ciências sociais. Existe um consenso generalizado sobre a compreensão dos métodos visuais como aqueles que incorporam a criação visual no processo de investigação – ainda que vão além disso. Práticas mediáticas multimodais, abordagens sensoriais e métodos participativos ou colaborativos compõem este campo flexível e em constante evolução, caracterizado pela atribuição de sentido às representações e criações audiovisuais no próprio processo de investigação (Pink, 2009; Bouldoires et al., 2017; Yvart et al., 2023). Este movimento destaca-se pelo seu caráter independente, interdisciplinar e indisciplinado. As relações corporais e subjetivas (Ruby, 2000; MacDougall, 1995) que intervêm na experiência visual e constroem a representação exemplificam as múltiplas ambições destes métodos, que requerem uma reflexão sobre os dados gerados – nem sempre suficientemente considerada (Buckingham, 2009; Switzer, 2018). Abordagens como as de Cruz, Sumartojo e Pink (2017), bem como Ibáñez-Bueno e Marín (2021), centram-se em novos processos, ferramentas digitais e novas formas de escrita científica para explorar o seu potencial. Estas propostas permitem conceber formas integradas de produção e apresentação do conhecimento, como o webdocumentário, as narrativas transmédia ou os ambientes imersivos a 360º, que expandem os modos tradicionais de comunicar os resultados.
A criação visual enquanto ferramenta metodológica não implica que o objeto de estudo seja visual em si, mas enquanto método e abordagem está inegavelmente relacionada com os estudos da visualidade (Contreras e Marín, 2022) e com a prática comunicativa. As imagens podem desempenhar múltiplas funções nos processos de investigação e ser integradas de diversas formas: produzidas pelos participantes, criadas com objetivos experimentais, encontradas e utilizadas como dados empíricos ou enquanto artefactos evocadores. Podem ser teorizadas, utilizadas para obter novos dados, para documentar processos ou para explorar representações e interpretações subjetivas e partilhadas. A ambição integradora dos métodos visuais questiona a ética, a visualidade, o olhar, o papel e a corporeidade do/a investigador/a, bem como as formas de criar e partilhar o conhecimento.
Imagem de capa: Instalação "Artificial Life: One Lag at a Time", de Ary-Yue Huang e Varvara Guljajeva (ARTECH 2023 - Faro)
TEMAS POSSÍVEIS
Convidamos à submissão de artigos, tanto empíricos como teóricos, que reflitam sobre as formas de investigação visual.
- Metodologias visuais e tecnologias emergentes
- Visão e inteligência artificial nas metodologias visuais de investigação
- Interseções entre métodos visuais e práticas de investigação-criação
- Estudos críticos sobre ética interpretativa nos processos de investigação visual
- Criação e estética científica visual: pós-documentário, imersivo, interativo ou transmédia
- Casos e restituições visuais digitais de investigação
- Epistemologia e estudos sobre a visualidade algorítmica
- Análise de políticas visuais algorítmicas no reconhecimento de regimes escópicos
DATAS-CHAVE
Prazo para apresentação de propostas: 27 de fevereiro de 2026
Notificação de aceitação: 30 de abril de 2026
Apresentação da versão final: 29 de maio de 2026
Publicação: 30 de julho de 2026
COORDENADORES
Alba Marín Carrillo, Universidad de Extremadura (España)
albamarin@unex.es
https://scholar.google.es/citations?user=M-WRiv8AAAAJ&hl=es
https://orcid.org/0000-0003-0285-7086
Charles-Alexandre Delestage. Université Bordeaux Montaigne (Francia)
charles-alexandre.delestage@u-bordeaux-montaigne.fr
https://scholar.google.es/citations?user=UCkwGAUAAAAJ&hl=es&oi=ao
https://orcid.org/0000-0002-7842-049X
Fernando Contreras Medina. Universidad de Sevilla (España)
fmedina@ues.es
https://scholar.google.es/citations?user=HtUZNuYAAAAJ&hl=es
https://orcid.org/0000-0003-1105-5800
Ricardo Ignacio Prado Hurtado. Universidad Anáhuac (México)
r.prado@anahuac.mx
https://scholar.google.es/citations?user=WPoUKnEAAAAJ&hl=es&oi=ao
https://orcid.org/0000-0002-4502-428X
Alba Marín. Professora Ayudante Doutora na Universidade da Extremadura (Área de Comunicação Audiovisual e Publicidade). Foi investigadora pós-doutoral na Universidade de Sevilha (NextGenerationEU) e professora ATER no Departamento de Communication Hypermédia da Université Savoie Mont Blanc. Doutora internacional em Comunicação pela Universidade Grenoble Alpes / USMB e pela Universidade de Sevilha. Maître de Conférences em Ciências da Informação e da Comunicação (secção 71) e membro dos grupos SEJ003: AR-CO (Área de Comunicação) e HUM868: Estudos Visuais, Arte e Património Cultural. O seu trabalho explora a importância social da imagem, o ativismo dos media e o documentário social no âmbito dos Estudos e Métodos Visuais.
Charles Alexandre Delestage. Professor Associado em Ciências da Informação e da Comunicação no Departamento Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI) e membro do laboratório MICA da Université Bordeaux Montaigne (França). Doutor em Informação e Comunicação pela Université Polytechnique Hauts-de-France. Leciona sobre comunicação audiovisual e produção de mediações imersivas. A sua investigação centra-se no uso de métodos visuais para a recolha subjetiva de dados sobre a experiência emocional do indivíduo (desenvolvimento do Spot Your Mood) e na receção das tecnologias imersivas na cultura.
Fernando Contreras Medina. Professor Catedrático do Departamento de Jornalismo 1 na Universidade de Sevilha, onde leciona Cibercultura, Design e Estudos Visuais. É autor de El cibermundo. Dialéctica del discurso informático (1998), um dos primeiros estudos narrativos em Espanha sobre videojogos. As suas publicações mais recentes incluem Estudios Visuales en Brasil (2022), El arte en la cibercultura. Introducción a una estética comunicacional (2018) e La desobediencia visual. Estética de los movimientos sociales del siglo XXI (2021).
Ricardo Ignacio Prado Hurtado. Professor-investigador e coordenador de pós-graduação no Centro de Investigação para a Comunicação Aplicada (CICA) da Universidad Anáhuac México. Diretor Geral Executivo da Mostrotown Publicidade. Doutor em Investigação da Comunicação pela Universidad Anáhuac México e Doutor em Ciências da Informação e da Comunicação pela Université Savoie Mont Blanc, onde também atua como investigador associado no laboratório LLSETI. A sua investigação centra-se em Métodos Emergentes de Investigação (MEI), estudos de publicidade e contramarketing, bem como em food studies e comunicação para a saúde alimentar.
Bibliografía
Bouldoires, A., Reix, F. y Meyer, M. (2017). Méthodes visuelles : définition et enjeux. Revue Française des Méthodes Visuelles, no 1 (juillet). https://rfmv.fr/numeros/1/introduction/.
Ibanez-Bueno, J., y Marín, A. (2021). Images interactives et nouvelles écritures. Un mouvement émergent pour de nouvelles écritures interactives. Revue française des méthodes visuelles, (5). https://doi.org/10.4000/12mp0
Buckingham, D. (2009). `Creative’ Visual Methods in Media Research: Possibilities, Problems and Proposals. Media, Culture & Society, 31(4): 633-52. https://doi.org/10.1177/0163443709335280.
Contreras, F.R. y Marín, A. (2022). Estudios Visuales en Brasil. Tirant lo Blanc.
Cruz, E. G., Sumartojo, S. y Pink, S. (2017). Refiguring Techniques in Digital Visual Research. Springer.
McDougall, D. (1995). Beyond observational cinema. In P. Hockings (ed.), Principles of Visual Anthropology. Mouton de Gruyter.
Pauwels, L. (2010). Taking the visual turn in research and scholarly communication key issues in developing a more visually literate (social) science. Visual Sociology, 15(1): 7-14. https://doi.org/10.1080/14725860008583812.
Pink, S. (2009). Doing Sensory Ethnography. Sage.
Ruby, J (2000). Picturing culture: explorations of film and anthropology. The University of Chicago Press.
Switzer, S. (2018). «That’s in an Image?: Towards a Critical and Interdisciplinary Reading of Participatory Visual Methods». En Moshoula Capous-Desyllas y Karen Morgaine (Eds.), Creating Social Change Through Creativity, pp. 189-207. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-52129-9_11.
Yvart, W., Delestage, C.A. y Lamboux-Durand, A. (2023). Les contours des méthodes visuelles. In III Conference on Visual and Multimodal Methods, Universidad de La Laguna, Tenerife, Espagne.
Artivismo Digital - Interseções entre Arte, Ativismo e Transformação Social
Numa era definida pela saturação digital, conetividade ubíqua, controlo algorítmico e fluxos de informação globais, o Artivismo Digital emergiu como um poderoso modo de resistência criativa. Funciona na intersecção da inovação artística e da intervenção política, utilizando ferramentas, plataformas e estéticas digitais para questionar narrativas dominantes, expor injustiças e mobilizar comunidades para a transformação social. A rápida expansão das redes sociais e da partilha digital remodelou o terreno do ativismo. Desde o imediatismo dos memes virais que satirizam os líderes políticos até à proliferação de subvertising - a apropriação e alteração da publicidade corporativa para revelar ideologias de exploração subjacentes - o Artivismo Digital prospera com a remistura, a visibilidade e a perturbação. Os ativistas criaram campanhas de GIFs, arte interativa na Web, contra-narrativas geradas por IA e intervenções de realidade aumentada que se relacionam de forma crítica com o espaço público, as políticas de classe e de identidade, a urgência climática e a cultura da vigilância. Formas mais radicais - e muitas vezes ilegais - como o hacktivismo, desafiam as instituições através de ações digitais diretas, que vão desde a desfiguração de sítios Web e fugas de dados a perturbações táticas de infraestruturas estatais e empresariais. Projetos como as operações online do coletivo Anonymous, as travessuras dos The Yes Men ou os hackings artísticos com carga política de coletivos como o !Mediengruppe Bitnik, exemplificam a forma como as ferramentas digitais podem ser utilizadas como armas estéticas e políticas para exigir transparência e responsabilidade. O Artivismo Digital também aparece em práticas artísticas generativas que utilizam sistemas algorítmicos para criticar a parcialidade dos dados, em coletivos de net-art que concebem plataformas de protesto anónimo ou em performances de realidade estendida (XR) que reimaginam histórias e possíveis futuros de resistência. O que une estas formas variadas é a sua capacidade de provocar uma reflexão crítica ao mesmo tempo que envolve os públicos através da cultura visual, da literacia digital e da participação em rede. Como tal, o Artivismo Digital não é apenas um método de intervenção, mas também um meio de contar histórias, construir comunidades e imaginar alternativas.
Convidamos contribuições que abordem as dimensões teóricas, históricas, metodológicas e práticas do Artivismo Digital, particularmente aquelas que examinam o seu potencial transformador nas sociedades atuais saturadas de media. São bem-vindos diversos formatos de materiais não publicados anteriormente, incluindo artigos de investigação, reflexões baseadas na prática, estudos de caso e análises interdisciplinares. As contribuições devem oferecer uma visão original do potencial transformador das práticas criativas digitais na intersecção da arte e do ativismo. As contribuições podem abordar, mas não se limitam aos seguintes temas:
1. Histórias e Genealogias do Artivismo Digital
Incentivamos contribuições que contextualizem as origens, trajetórias e evoluções do Artivismo Digital no âmbito de narrativas mais amplas de resistência política, inovação artística e desenvolvimento tecnológico.
2. Quadros teóricos e conceptuais
As contribuições nesta categoria podem envolver-se em debates conceptuais em torno do Artivismo Digital, incluindo práticas de apropriação, cultura remix, subvertising, culture jamming, hacktivismo, media táticos e outras formas de intervenção híbrida ativista-artística.
3. Pedagogias críticas e formas de arte digital inclusivas
Este tema centra-se na intersecção entre práticas artivistas e pedagogia crítica. Procuramos analisar o modo como a estética relacional, as abordagens artísticas socialmente transformadoras e as práticas de arte digital interventiva operam em contextos educativos para promover o pensamento crítico e a consciência social.
4. Artivismo Digital e Co-construção da Comunidade
Convidamos à exploração da forma como o Artivismo Digital contribui para a (co)(re)construção de identidades comunitárias e minoritárias, particularmente em resposta à marginalização sistémica social, política ou cultural. A ênfase deve ser colocada em práticas que privilegiem os direitos humanos, a agência coletiva e a resiliência cultural.
5. Artivismo Digital e a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável
Apelando a reflexões sobre o papel do Artivismo Digital no avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente no que diz respeito à justiça ambiental, à ação climática e à defesa de ecossistemas sustentáveis através da prática criativa.
6. Metodologias de prática e participação
Incentivamos a apresentação de trabalhos que examinem quadros metodológicos no âmbito do Artivismo Digital, em particular os que ativam processos participativos e co-criativos. São bem-vindos estudos de caso e investigação orientada para a prática que explorem a forma como as estratégias artivistas promovem o envolvimento cívico.
7. Entre a Arte Política e a Arte Ativista
Procuramos reflexões críticas sobre as distinções conceptuais e práticas entre arte política e arte ativista, considerando os seus respetivos objetivos, públicos, modos de intervenção e impacto sociopolítico.
Datas importantes:
Data-limite para submissão de trabalhos: 2025-09-30
Notificação de aceitação: 2025-11-15
Envio da versão final: 2025-12-31
Publicação: 2026-02-01
Editores: Isabel Cristina Carvalho (CIAC, Universidade Aberta), Marc Garrett (Furtherfield, Ravensbourne College of Design and Communication) e Pedro Alves da Veiga (CIAC, Universidade Aberta).
Isabel Carvalho é artista e investigadora, com formação em Arquitetura e doutorada em Média-Arte Digital (2016), com foco em media-locativos e fluxos urbanos. Foi investigadora de pós-doutoramento em Animação Computacional na Universidade de Bournemouth (2018-2019). Atualmente, é investigadora no CIAC, Universidade Aberta, onde estuda processos de mapeamento comunitário e colaborativo, e a relação entre pessoas, espaços e tecnologia, focando-se nas interações entre o real e o virtual em experiências urbanas híbridas através da média-arte locativa.
Marc Garrett é um artista, escritor, ativista e curador. Co-fundou o coletivo de artes da Internet Furtherfield com Ruth Catlow em 1996 e em conjunto têm dirigido a respetiva Galeria e Laboratório em Finsbury Park, Londres, desde 2004. Foi curador de inúmeras exposições e publicações de média-arte, incluindo Artists Re: Thinking the Blockchain (2017) e Frankenstein Reanimated (2022). A sua biografia biopolítica Feral Class será publicada no verão de 2025, seguida de 30 Years of Furtherfield (outono de 2025), co-editada com Regine DeBatty e Martin Zellinger.
Pedro Alves da Veiga é atualmente Professor e Subdiretor do Doutoramento em Média-Arte Digital da Universidade Aberta, em Portugal. A sua investigação situa-se nas fronteiras entre os campos da arte, ciência, tecnologia e sociedade, centrando-se no impacto das economias da atenção e da experiência nos ecossistemas da média-arte digital, na curadoria digital e nas metodologias de investigação baseadas em prática artística. Enquanto artivista, Veiga explora a arte generativa, sistemas interativos, programação criativa, assemblage e audiovisuais digitais.
Chamada de trabalhos em permanência
- Varia (artigos distintos do dossiê temático);
- Recensões e Entrevistas;
- Crónica de Arte.